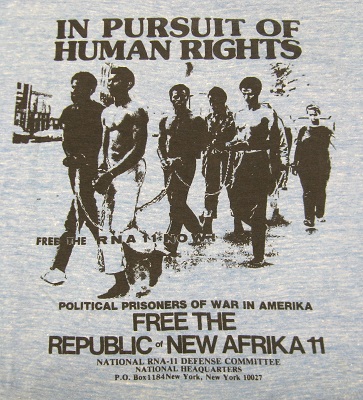[Nota de Sergio Bologna sobre a terminologia: as categorias da análise de classe usadas pela sociologia do movimento tradicional da classe operária e pela sociologia burguesa (pequena burguesia, classe média, lumpen ou subproletariado, lumpen-burguesia, etc.) são usadas aqui apenas em seu uso histórico convencional. Consideramos o valor científico dessas classificações – nas atuais condições e dadas as suposições implícitas nelas – duvidoso, para dizer o mínimo. Elas tem apenas um valor convencional, na medida em que os conceitos de capital e de composição de classe são muito mais funcionais para definir a dinâmica das relações de classe hoje como relações de poder… Essas contradições de linguagem são a expressão de uma crise contemporânea do aparato conceitual do marxismo tradicional. Elas enfatizam a necessidade de uma reavaliação política e criativa das categorias analíticas, uma “redescoberta” do marxismo à luz da luta de classes contemporânea.]
Esse artigo é uma tentativa provisória de traças o desenvolvimento interno do movimento de classe autônomo na Itália, que levou à confrontação explosiva em torno das ocupações de universidades da primavera de 1977. Uma análise desse tipo só faz sentido se nos permite revelar a nova composição de classe implicada nessas lutas, e indicar os primeiros elementos de um programa para fazer avançar e generalizar o movimento.
Aqui, analisamos o movimento primeiramente em sua relação com o sistema político italiano e as mudanças pelas quais ele passou no período de crise desde 1968. Com a estratégia de compromisso histórico do Partido Comunista Italiano (PCI), desde 1974, a forma do Estado deu um novo salto adiante – na direção da organização de um “sistema partidário” que não tenta mais mediar ou representar os conflitos da sociedade civil, mas é cada vez mais compacto e oposto aos movimentos da sociedade civil e contrário ao programa político da nova composição de classe.
A resistência antifascista na Itália durante o período da guerra estabeleceu as bases para uma forma de Estado baseado no “sistema partidário”. O novo regime herdou do fascismo instrumentos bastante poderosos para uma “interferência” política independente no processo de reprodução das classes (normalmente deixado ao desenvolvimento das relações de produção e a subsunção real do trabalho ao capital). Esses instrumentos eram: o crédito; indústrias controladas pelo Estado; o gasto público.
O sistema partidário, assim, chegou a controlar os setores básicos da economia e importante setores de serviços. Através desse controle, e no interior dele o dos democratas cristãos (o partido hegemônico desde a crise do governo Parri, em novembro de 1945, às coalizões de centro-esquerda dos anos sessenta), ele conseguiu negociar com o imperialismo dos EUA e as multinacionais, tanto domésticas quanto estrangeiras, a respeito da divisão internacional do trabalho, o ritmo de crescimento da classe operária, o tipo de classe operária a ser construído – em outras palavras, conseguiu organizar a dinâmica das relações de classe de uma nova maneira que correspondia aos planos para a estabilidade política. Em algumas regiões do “triângulo industrial” do norte, a reprodução das classes sociais foi deixada aos mecanismo clássicos de concentração/massificação da força de trabalho na indústria de grande escala. Esse setor foi deixado ao capital produtivo – privado e público – para formar aquela “composição demográfica racional”, cuja falta (para a Itália, em contraste com os EUA) Gramsci tanto lamentava em seus Cadernos do Cárcere (ver o artigo sobre Americanismo e fordismo). Aqui, em outras palavras, a sociedade deveria se desenvolver composta inteiramente de produtores, consistindo apenas em trabalho assalariado e capital.
Devemos acrescentar que esse mecanismo do desenvolvimento capitalista avançado não produziu apenas operários fabris, mas também uma grande proporção de operários do setor terciário, de modo que regiões como a Ligúria, a Lombardia ou Veneto tem um porcentual maior de empregados trabalhando em atividades terciárias do que algumas regiões no sul. Nessas últimas regiões, no entanto, a intervenção do “sistema partidário” no mecanismo de reformulação e reprodução das classes parece acontecer com uma autonomia maior em relação aos movimentos do capital.
A forma do Estado – aberta ou latente
Os acordos políticos estabelecidos enquanto isso com a indústria de grande escala europeia permitiram que um grande número de proletários agrários fossem transferidos para outros lugares; a produção de uma classe operária fabril foi conduzida com muito cuidado, de acordo com o princípio de que o domínio do capital fixo deveria ser sempre muito mais poderoso. Ao mesmo tempo, foi dado apoio a todas as formas de produção agrícola que mantivessem relações demográficas irracionais; houve um fluxo de subsídio financeiro com o objetivo de “congelar” relações e camadas sociais não-produtivas, e um fluxo de renda – “dinheiro enquanto dinheiro” – adquirido através do emprego na administração pública. Tudo isso teve o efeito de reproduzir de maneira desproporcionalmente grande a pequena e média burguesia, baseada no ganho como renda, que representou a base social necessária para a estabilidade do regime democrata cristão.
No longo prazo, os efeitos dessa política de reprodução de classes mitigou os efeitos revolucionários da sujeição do trabalho ao capital, compensando o crescimento da classe operária com um crescimento desproporcional da pequena e média burguesia, baseada nos ganhos como renda, não hostil à classe operária, mas passiva, não anti-sindical, mas “autônoma”, não produtiva, mas poupadora, e portanto permitindo uma reciclagem social dos rendimentos que recebia. Mas essa primeira dinâmica de classe foi fragmentada e desviada, em primeiro lugar, pela ofensiva da classe operária no fim dos anos 60, e então, alguns anos mais tarde, pelo efeitos violentos da crise – que devemos examinar adiante.
A forma do Estado no “sistema partidário” do pós-guerra é uma forma latente: o que normalmente aparece na superfície é um método de mediação e representação de conflitos. Em um lado estão os partidos governantes que dominam o aparelho burocrático-repressivo do Estado, e do outro os partidos de oposição, que são os recipientes para mediar os impulsos e contradições da sociedade civil. A forma do Estado se revela em certos momentos históricos, quando a crise do regime precedente e o desenvolvimento de uma nova composição de classe arriscam fugir ao controle da dialética entre governo e oposição. Isso aconteceu em 1945-46, depois da luta armada contra o fascismo. Os partidos escolheram substituir suas relações com as classes, com as massas, por relações mútuas entre eles; o Partido Comunista escolheu priorizar as relações com outros partidos que apoiavam a constituição da República e não suas relações com a classe e o movimento armado. De maneira semelhante, em seu período mais recente e jogando com um “estado de emergência” parecido para superar a crise atual (assim como na “reconstrução” pós-guerra) desde que escolheu o caminho do compromisso histórico (e mais fortemente desde as eleições de junho de 1976), o Partido Comunista privilegiou o reforço de suas relações com outros partidos – e em particular com os democratas cristãos. Isso foi feito para “resolver a crise do Estado”, para redefinir o “sistema partidário” em termo de acordo mais do que de conflito. Agora, a unidade dos partidos em um nível político e programático está sendo concluída como uma estrutura de aço construída sobre as necessidades da classe operária. O “sistema partidário” não pretende mais representar conflitos, nem mediá-los ou organizá-los: ele os delega a “interesses econômicos” e se coloca como uma forma específica de Estado, separada dos e hostil aos movimentos da sociedade civil. O sistema político se torna mais rígido, mais francamente oposto à sociedade civil. O sistema partidário não “recebe” mais os impulsos da base; ele os controla e reprime.
A concretização da nova forma do Estado
Essa corrida entre os partidos (e acima de todos, o PCI) para alcançar vínculos cada vez mais estreitos, essa nova edição do pacto constitucional assinado durante a resistência e depois violado pelos democratas cristãos, está acontecendo hoje sob a bandeira da ideologia da crise e a imposição da austeridade. A cadeia de conexões que liga simultaneamente os partidos no novo pacto constitucional – e os contrapõe a todos como uma máquina hostil à sociedade civil, a uma sociedade que exprime novas necessidades, à composição de classe – é representada pela ideologia da crise. A forma do Estado está agora se tornando aberta e explícita através da consolidação do pacto no “sistema partidário”. Em outras palavras, ele não depende de um fortalecimento do aparelho repressivo/militar, já que este último está subordinado ao nível de homogeneidade do “sistema partidário”.
Esse processo é um processo complexo, e se deparou com mil e um obstáculos, mas no momento ele é claramente a única saída se o atual equilíbrio de poder tem que ser mantido. Desde as insurreições estudantis em 1977, o movimento no sentido de a uma coalização de todos os partidos para confrontar a crise se acelerou
Mas se a forma do Estado, que está se tornando explícita, não pode ser reduzida simplesmente ao fortalecimento do seu aparelho repressivo, então como ela é concretizada? Até aqui, pelo menos, ela foi concretizada por um sistema de valores, de normas políticas, regras não escritas governando todos os partidos na arena democrática, que decide de fato o que é legítimo, o que é legal ou ilegal, o que é produtivo ou improdutivo, etc. Uma vez que a sustentação para esse consenso é fornecida por uma ideologia da crise determinada, um certo tipo de intelectual assumiu uma grande importância como propagador ou expoente da “consciência coletiva” nesse período.
Traição dos intelectuais, liberalização do acesso à educação e o mundo da renda
A responsabilidade fundamental de oferecer os argumentos básicos por trás da ideologia da crise cabe à profissão dos economistas. Isso se aplica não apenas aos altos sacerdotes do regime. Estão incluídos os jovens economistas que assumiram cargos em universidades, apoiados por iniciativas de Cambridge ou de Harvard, e muito frequentemente se abrem para relações com sindicatos. Diante da alternativa entre um comprometimento com a classe operária ou uma ciência acadêmico-burguesa, eles invariavelmente escolheram, de maneira mais ou menos explícita, o segundo. Em certos casos, precisamente através de uma interpretação diferente da ideologia dominante da crise, eles contribuíram com ela, e ajudaram a “fechar o círculo”. Isso pode ser afirmado, para dar um exemplo, dos economistas da “nova esquerda” da faculdade de Modena: ele poderia ter se tornado um centro de contrainformação rigorosa e documentada para desmantelar os falsos argumentos por trás da ideologia da crise. Mas ao invés disso, eles preferiram se manter em silêncio, ou deram mais lições à classe operária sobre ter prudência, ser razoável ou como se render. Esse é apenas um exemplo da “traição dos intelectuais” mais gerais da geração de 1968, que foi vista como um dos principais fatores que deixou que a “restauração” dos últimos anos nas universidades acontecesse, e contribuiu para criar o radical abismo cultural entre o movimento de ’68 e o de ’77.
O sistema político italiano foi capaz de interferir de maneira autônoma no processo de reprodução de classes através de vários tipos de incentivos estatais, e um dos mais importantes desses foi claramente a liberação do acesso às universidades desde 1969. Alguns interpretam esse movimento como uma maneira de minar a hegemonia da classe operária que amadureceu na onda de lutas do fim dos anos sessenta, isolando a classe ao promover uma mobilidade de ascensão social. Se um projeto desse tipo chegou a ser formulado de maneira explícita em algum momento, não sabemos disso. Examinemos o mecanismo da coisa. A liberação do acesso às universidades, pelo menos no papel, favorece a ascensão social. Um jovem da classe operária pode escapar ao caminho da geração anterior, pode evitar a necessidade de trabalho fabril ou manual. Essa operação é financiada pela distribuição na forma de presalari (subvenções) – só a Universidade de Pádua contabiliza mais de $2.000.000 em um ano – e por um aumento do quadro de professores e funcionários suplementares em meia-jornada.
Nesse ponto, os altos sacerdotes da nossa economia começam a reclamar de que os critérios para o financiamento dessa mobilidade social determinam de antemão a classe que irá surgir do sistema universitário liberado: uma pequena-burguesia que é subsidiada e “vive o bem estar”, e não é produtiva nem disposta a trabalhar. Eles reclamam, em outras palavras, do fato de que a perspectiva de trabalhos que diferem do trabalho fabril não é um incentivo suficiente para o trabalho produtivo, mas, ao contrário, age como um sinal para o recebimento de renda na esfera da circulação, para o mundo da renda (dinheiro enquanto dinheiro, removido do circuito do capital produtivo). Nesse momento, todo o “sistema partidário” se une no grande debate da reprodução das classes na Itália, suas distorções, desequilíbrios, etc., e a conclusão geral é a de que não é suficiente reproduzir uma pequena-burguesia em um papel antioperário se ela, então, se torna uma classe improdutiva que recebe renda.
Então, a mitologia bode expiatório de “caçar os parasitas” – a palavra de ordem da ideologia da crise – assume a dianteira. Sustentada pelas revelações “científicas” de Sylos Babini, Gorreri, etc., esse novo jogo começa bastante sério. Um ripo de igualitarismo vago surge para esquadrinhar a renda do trabalhador administrativo, do estudante e do operário do setor terciário, e não fala nada, por exemplo, sobre a transformação do capital-que-é-produtivo no capital-que-é-produtivo-de-juros; em sua forma mais vergonhosa, esse igualitarismo assume tons de chauvinismo operário. Parece que não é mais o capital que explora o trabalhador, mas o carteiro, o leiteiro e o estudante. Essas são apenas as primeiras investidas dessa “análise de classes” que mais tarde vai se tornar a ideologia oficial e argumento preferido dos escritores extremamente bem pagos dos editoriais de imprensa do regime. É uma ideologia bruta, mas efetiva. Se faz com que a liberação do acesso à universidade coincida com a crise, com o desemprego dos jovens, com a redução da base produtiva, com o aumento dos subsídios estatais. Mas, mais do que tudo, com ela se esboça uma fase radicalmente nova do comportamento político das massas. O círculo se fecha: o que era antes definido como “desespero da juventude”, como “marginalidade” – em outras palavras, como um efeito perverso, criado pela crise, de um mecanismo que foi criado e concebido como meio de estabilização de um sistema – passa a agir (ainda que isso seja silenciosamente esquecido) como uma função anti-operária!
Bloqueando a autonomia da classe operária e ocupando os espaços políticos
Não é fácil separar a massa de mentiras e meias-verdades que estão contidas nessa dinâmica distorcida da dinâmica de classe. A melhor resposta é retornar às raízes em que tudo começou – o ciclo de lutas de 1968-69. O problema para o “sistema partidário” naquele momento não era apenas bloquear e marginalizar uma hegemonia social da classe operária que havia se mostrado na Itália pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Era, antes, o problema de extirpar as formas políticas em que essa hegemonia havia se manifestado – a forma política da autonomia.
Uma resposta estava nos investimentos de tipo tecnológico que foram introduzido para romper o núcleo central da classe (a mudança na composição orgânica, etc.). Mas foi menos óbvio o processo pelo qual o “sistema partidário” começou a conquista do terreno da autonomia da classe operária, se apresentando pela primeira vez como uma forma explícita de poder de Estado.
Isso aconteceu na própria fábrica, com a remoção gradual do poder efetivo dos delegados (administradores industriais) nos conselhos de fábrica, e acima de tudo com a manipulação das assembleias operárias, a sua destruição gradual como órgãos independentes de iniciativa e escolha da classe operária. As fábricas, que tinham permanecido livres da política partidária tradicional por mais de uma década e nas quais a organização da autonomia em relação à “política” no sentido tradicional foi conquistada no ciclo de lutas de massas do final dos anos sessenta em diante, agora se tornavam novamente um terreno político de manipulação para o “sistema partidário”. Todas as formas e instâncias da autonomia de classe, através da qual um espaço real para uma política classista independente foi conquistada (mesmo aquelas relacionadas à mediação sindical, como a organização pelos administradores industriais), foram confiscadas e deixadas para atrofiar – e enquanto isso a reestruturação expulsava e fragmentava os grupos mais militantes e homogêneos nas usinas. O “sistema partidário” assumiu o controle das formas organizativas que restaram, como os conselhos operários, os transformando em clubes parlamentares.
Ao mesmo tempo, os grupos extraparlamentares começaram sua retirada suicida das fábricas, e em geral deixaram de prestar muita atenção aos problemas da composição de classe. Isso levou a uma situação em que, hoje, a fábrica e a classe operária se tornaram entidades praticamente desconhecidas
Quanto maior o espaço político conquistado pelos movimentos extra-institucionais, o terreno cultural e os sistemas de valor e comportamento que levam a setores decisivos da classe, mais a forma do Estado como “sistema partidário” se torna aberta e agressiva.
Mas a forma do Estado não pode viver apenas como um poder que é hostil aos movimentos extra-institucionais: ela precisa de uma legitimação básica – a saber, a legitimação da sua coincidência com as leis de acumulação capitalista. Se tornando a intérprete da ideologia da crise, organizando uma nova política de coerção para o trabalho e uma política de austeridade e sacrifício, a forma-Estado do “sistema partidário” chega ao ponto mais alto de integração no interior do sistema do capital pelo abandono gradual de sua autonomia. Mas então o que devemos pensar da afirmação feita por certos herdeiros de Togliatti de que existe uma “autonomia do político”? Onde está essa autonomia? Mesmo onde essa autonomia teve a maior substância – no processo de reprodução de classes – a violência da crise levou todas as coisas para baixo das leis de ferro do capital.
Níveis e distribuição de renda e composição de classe
Apesar de tudo o que se fala sobre os efeitos da intervenção pública pelo aumento do gasto público, todas as pesquisas mais recentes (por exemplo, a do Boletim do Banco da Itália, de out-dez de 1976) mostra que na Itália não houve mudança na distribuição de renda, nem nenhuma alteração substancial na sua composição.
Os níveis de renda não diminuíram, apesar da crise. Mesmo o nível de consumo dos bens de consumo duráveis não caiu (na verdade, as formas de pagamento a crédito caíram). Descobrir como o proletariado, e em particular a classe operária, não se permitiu ser pressionado ao limite da pobreza pela crise, mas conseguiu aumentar suas necessidades e seus meios de satisfazê-las, já nos diria muito sobre a nova composição de classe.
Se o consumo não caiu, o nível das popanças também não, e esse ponto é significativo para a análise da “pequena burguesia” e (como somos levados a pensar) o crescimento vegetativo do “setor terciário”. As famílias italianas têm um dos maiores níveis de poupança do mundo; isso pareceria confirmar a hipótese de que a predisposição a poupar na forma de liquidez bancária é um sintoma da desproporção “terciária” da sociedade italiana e da sua base produtiva insuficiente.
E ainda assim, não apenas o Boletim mostra que as popanças dos grupos de renda mais baixos e medianos aumento (1973-76, i.e. em um período de inflação selvagem e de desvalorização da lira) na forma de depósitos bancários, contas correntes e poupanças postais, mas também mostra que isso é um fator de equilíbrio, reciclando a renda através das instituições de crédito, investido na forma de capital financeiro em empresas públicas e privadas, em Títulos do Tesouro, no financiamento de gastos públicos, serviços, etc. O mito da hipertrofia do setor terciário – o tema comum da ideologia da crise, da direita até a “nova” esquerda – não tem fundamento. Os dados da OECD mostram que o emprego no setor terciário na Itália está entre os menores nos países avançados: Itália 45%, EUA 64%, Canadá 62%, Reino Unido 54% – apenas a Alemanha ocidental tem uma porcentagem menor. Além disso, as estatísticas do ISTAT mostram que o emprego terciário está concentrado principalmente no norte industrializado.
De acordo com o esquema apresentando pela propaganda dominante sobre a crise, deveríamos esperar um fluxo de crédito para promover uma camada da sociedade improdutiva baseada na renda – a pequena e média burguesia, como um apoio para a estabilidade política – e um fluxo desproporcional de recursos para o setor terciário. Mas não é assim! As instituições de crédito especial (impulsionadas pelo Estado), de acordo com o Boletim, mandam mais financiamento para a indústria (em uma proporção três vezes maior) ou para o transporte e as comunicações (uma vez e meia maiores) do que para o comércio, os serviços e a administração públicas. Só a habitação – um fato notável – tem o dobro dos investimentos de todo o setor terciário em conjunto!
A crise monetária, o mercado imobiliário e o seu efeito na estratificação de classe
Há uma relação específica entre o mercado imobiliário e a crise monetária. O imóvel é o primeiro refúgio para assegurar os ganhos da “pequena-burguesia” – mas também para o investimento de dólares do petróleo, a base do império dos trusts de investimento em imóveis, companhias de seguro, fundos de pensão, etc., incluindo os tipos mais aventureiros de atividade especulativa. De acordo com a Reserva Federal dos EUA, no fim de 1975, mais ou menos um quarto dos créditos dos bancos dos EUA estavam no mercado imobiliário. Enquanto entre 1971-74, “empréstimos para a terra e o desenvolvimento da terra” (acima de tudo para o desenvolvimento de subúrbios) triplicou, os créditos bancários de comércio para trusts imobiliários e companhias de hipoteca mais do que duplicaram[1].
Dessa maneira, os preços de áreas suburbanas aumentaram, tornando mais produtivo para o capital desenvolver a moradia nos subúrbios e distanciando as camadas sociais com maiores salários dos centros urbanos, enquanto ao mesmo tempo retirava desses centros taxas, impostos, etc., e colocando em movimento o mecanismo da “crise fiscal” do gasto público, que agora é um fato bastante conhecido. No entanto, estamos apenas no início desse processo, porque a aquisição de áreas suburbanas não foi seguida por um movimento igualmente amplo de construção, enquanto a corrida foi para capturar terras, a construção de habitações de fato teve uma queda dramática. Se somamos as habitações de uma só família e de mais de uma família, vemos um grande aumento no período de 1971-72 e então uma queda súbita em janeiro de 1973 até dezembro de 1974. Quando a construção continuou a se levantar, foi no setor de apenas uma família e foi bastante fraco no setor de mais de uma família[2]
Consequentemente, grandes porções de terreno suburbano estão a espera de construções, para tornar produtivo o capital que foi “fixado” ali. Nos centros metropolitanos, que se tornaram zonas privilegiadas para a petrificação do capital, o mecanismo é diferente: para conseguir que esse capital se mobilize, para dar a ele mais uma vez a forma de uma mercadoria e valor de troca, uma estrutura específica foi criada – uma série de instituições especulativas especiais, inventadas ao longo da crise, que aumentaram o ritmo de transferência de títulos de propriedade e deram um impulso considerável à velocidade de criação do dinheiro sem que ele passe pelo processo de produção. Também nos Estados Unidos – e provavelmente mais ainda do que na Itália – o “lucro empreiteiro” usou a crise para subtrair recursos do capital produtivo. Assim, não houve uma “escassez de capital”, como algumas pessoas sustentaram: o capital de risco das empresas foi fornecido em grande parte por fundos de pensão privados, que, de acordo com Peter Drucker, hoje controlam um terço de todo o capital nos EUA[3]. Assim, parece que o capital produtivo foi financiado pelas contribuições dos operários, enquanto os investidores institucionais – especialmente os bancos que os controlam – preferiram entrar pelo caminho da especulação na propriedade e na troca de valores.
A imensa transferência de recursos financeiros da parte do capital do mercado imobiliário nos leva novamente à questão do “sistema partidário”. Os poderes conferidos às administrações locais são ainda incertos, mas não há dúvidas de que na Itália o “sistema partidário” representa o fator condicionante mais importante no mercado imobiliário. Grandes controladores de território (o DC e o PCI) podem, através dos controles de planejamento, forçar um processo de negociação ao “lucro empreiteiro”, podem força-lo a fazer concessões (que, no entanto, são insignificantes quando comparadas aos poderes que o “lucro empreiteiro” atribui ao “sistema partidário”, no que diz respeito à direção e ao controle das dinâmicas de classe). Como algumas análises mais inteligentes mostraram, o ciclo de construção na Itália funcionou como uma bomba de drenagem de renda dos trabalhadores para redistribuí-la para as classes médias por um lado e para o “lucro empreiteiro” por outro[4].
O ataque aos salários através do custo da habitação teve um efeito direto nas estratificações de classe, e é um violento fator de proletarização; a mudança forçada na direção de áreas urbanas periféricas com serviços ruins é poderoso fator de marginalização. As classes, reelaboradas nesse processo, assumem as típicas características mistas de um período de crise. O trabalhador assalariado que, com as garantias do sindicalismo, consegue manter seus níveis de renda, mas que, por razão dos problemas de habitação, vive em uma zona marginalizada, produz padrões de comportamento econômicos, sociais e políticos que estão a meio caminho entre a classe operária “garantida” e o subproletariado mesmo que o estado atual de seu emprego possa colocá-lo entre a pequena e média burguesia.
Uma parte considerável do comportamento político do jovem proletariado durante as lutas recentes deve ser compreendido a partir da cidade como um espaço de intervenção na dinâmica de classe. A mítica “reconquista dos centros urbanos” é uma reação à ameaça de marginalização que a aliança profana do “lobby empreiteiro” e do “sistema partidário” está apresentando. Nessa “reconquista dos centros urbanos” há um desejo de contar como um sujeito político, de romper com os equilíbrios institucionais, de interferir uma vez mais nas relações internas do “sistema partidário”, uma recusa a ser classificado como “zona de cultura”, e isso é tudo.
A total subordinação do sistema partidário à política da crise
Para concluir: inflação e mecanismos de crise diminuíram consideravelmente o poder do “sistema partidário” de intervir de maneira autônoma no processo de reprodução de classes na Itália. A autonomia relativa da distribuição política de renda foi imensamente estreitada. A possibilidade de criar diferenças de status através de diferenças de renda, distribuindo dinheiro através de transferências de renda, suplementando os salários nos serviços públicos, etc., foi diminuída. A questão da “composição demográfica racional” (à qual Gramsci se referia nos anos 1930) está se tornando em primeiro lugar dependente exclusivamente do desenvolvimento capitalista, da composição orgânica do capital agregado. Até o processo de crescimento terciário ou a criação de setores improdutivos agora depende mais do desenvolvimento do capital fixo do que de qualquer intervenção autônoma da parte das elites políticas.
Ninguém poderia negar que o “sistema partidário” teve, nos últimos anos, o poder interferir com alguma independência nesse processo – através dos controles econômicos sobre o crédito e a distribuição de dinheiro como renda, ou através da exportação do proletariado. Mas ao mesmo tempo, o “efeito de distorção” dessas escolhas é deliberadamente exagerado pelo PCI e o movimento operário tradicional. O seu resultado global não parece especialmente diferente (por exemplo, no caso do crescimento da atividade terciária) do desenvolvimento de outros países industriais. Nem resultou, pelo menos até recentemente, em nenhuma mudança significativa na distribuição de renda.
Se ele fez alguma coisa, foi criar uma estrutura social e industrial altamente sensível ao problema das poupanças – permitindo a centralização de lucros improdutivos e a sua reciclagem na forma de capital financeiro e gasto público. Os poderes que o “sistema partidário” ainda parece ter, não mais sobre a reprodução das classes, mas sobre uma nova agregação de classe que foi formada pela crise, estão localizados em um nível diferente (i.e. em formas externas de controle no nível sócio-territorial, para desagregar e desintegrar a unidade da classe, e nas relações perversas com setores específicos do capital especulativo, tais como o mercado imobiliário).
É do interior desses limites estreitos que a nova forma do Estado sai. Isso não é visto como a fase de conclusão da supervalorizada “autonomia do político” diante do desenvolvimento “econômico”, mas, antes, como um processo totalmente contrário: o da subordinação total do “sistema partidário” à política da crise.
A reprodução de classes se tornou um problema de legitimação política mais do que de intervenção material: uma questão de identidade social e cultural, de aceitação ou recusa das normas de comportamento social exigidas e estabelecidas pela forma do Estado. As classes tenderam a perder as suas características “objetivas” e se tornaram definidas em termos de subjetividade política. Mas nesse processo, a força maior de redefinição veio de baixo: na reprodução e invenção contínuas de sistemas de contracultura e nas lutas na esfera da vida cotidiana, que se tornaram cada vez mais “ilegais”. A liberação dessa área de autonomia por fora e contra as instituições sociais oficiais é mais forte do que o sistema de valores que o “sistema partidário” busca impor.
É por isso que a nova forma do Estado, ou, antes, a sua revelação, já se encontra em uma condição criticamente fraca. A volta ao aparelho burocrático/repressivo, ao “poder de Estado” puro e simples, significaria o fim do “sistema partidário”, como estabelecido por mais de trinta anos.
O que testemunhamos nessa crise é a sujeição do sistema político pelo capital, a destruição de sua “autonomia”. Isso não pode ser compreendido de maneira apropriada a não ser que o vejamos em relação à centralização do domínio capitalista que define a política da crise para todos os partidos (i.e. a própria esfera da “política”). Essa centralização é formalmente representada em instituições monetárias, dos bancos centrais ao FMI.
Pelos últimos três anos, nós na Primo Maggio, estivemos apontando para um fato que agora é geralmente aceito: as escolhas de política econômica – e, com isso, também os critérios com os quais as relações de classe em Estados nacionais são condicionadas – não são mais resultado de uma negociação ou de uma barganha entre partidos, sindicatos e tudo mais (em outras palavras, mediadas por relações de forças entre classes e interesses), mas são impostas por necessidades econômicas determinadas (em última instância) pelo Fundo Monetário Internacional.
É essa nova realidade institucional do poder em escala internacional que estabelece os marcos básicos para a lógica da atual ideologia da crise e da escassez, e portanto também a propaganda para as medidas de austeridade. A administração Carter desenvolveu esse aspecto específico do dinheiro como domínio capitalista com base da política global dos EUA. O relançamento da hegemonia dos EUA depende especialmente dos resultados já conquistados, que permitem que os EUA controlem a escassez, principalmente nos setores chave de energia e alimentação, internacionalmente (“os EUA se colocam como a principal fonte global da estabilidade alimentar” – secretário Brzezinski, em Foreign Policy, nº 23). Cada escolha “nacional” na área de energia básica e alimentação deve se contrapor a uma divisão internacional do trabalho que os EUA pretendem que seja respeitada. A tecnologia de processamento alimentar será defendida de maneira tão intensa quanto o petróleo ou o urânio. Hoje, é esse domínio sobre as mercadorias básicas que regula as relações entre os EUA e o resto do mundo. Desde a vitória do PCI nas eleições de 1976 e a sua aceitação da Itália como membro da OTAN, seguida pela recente ressurreição eleitoral do DC, a administração Carter, ainda que de maneira cautelosa, assumiu inteiramente o reconhecimento realista de que a única solução para a administração da crise na Itália é o reforço do pacto que une o “sistema partidário” e um “governo de partidos majoritários”, incluindo o PCI, como a única condição, em outras palavras, para a implementação da “austeridade consentida”.
Recomposição da classe operária no período desde o fim dos anos 1960
Até aqui nos concentramos na recomposição do domínio capitalista na crise e no desenvolvimento da forma do Estado através do enrijecimento do “sistema partidário”. Devemos agora nos voltar para o outro lado – a recomposição da classe. Tomar a fábrica ou a universidade como ponto de partida não é um problema, já que ambos são núcleos de resistência e recuperação de uma política de classe alternativa – ambos os pontos de partida poderiam servir para nós.
Se tomamos o desenvolvimento subjetivo do movimento através do período desde o ciclo de ofensiva de classe no fim dos anos sessenta, podemos distinguir duas fases principais da luta. Na primeira, de 1969 até a crise do petróleo de 1973-74, o ataque ao núcleo central militante da classe operária através da reestruturação, reorganização da produção, etc., foi combinado com a “estratégia de tensão” (uso terrorista de serviços secretos, atividade proto-fascista clandestina apoiada pelo Estado, com uso notável de pessoal fascista). A geração mais recente de militantes formados em torno do movimento de 1968-69 foi consumida na resposta a esse ataque: logo depois dos “parênteses” da ofensiva operária, eles voltaram aos esquemas clássicos de forma-partido – a relação estreita entre programa e organização e uma perspectiva sobre a luta pelo poder articulada com a tática de um movimento antifascista militante, combinado com a conquista do nível formal, eleitoral, da política. Durante essa primeira fase, o “sistema partidário” ainda não havia “cristalizado” na forma do Estado: ele era dividido em uma oposição aguda entre um Executivo, que mobilizava os níveis clandestinos do Estado (dos serviços secretos à magistratura), e uma oposição que revivia os valores democráticos e as tradições da resistência antifascista. Essa era, em outras palavras, a fase de reabsorção parcial das formas precedentes de autonomia de classe pelo “sistema partidário”, uma recuperação das tradições ideológicas e organizativas do movimento operário oficial: uma certa “introjeção” do “sistema partidário” no próprio movimento revolucionário.
No que diz respeito à relação entre subjetividade e modelos de organização na esquerda revolucionária, esse primeiro período, da provocação do Estado-fascista com as bombas de Piazza Fontana (Milão, dezembro de 1969) à eventual derrota da “estratégia de tensão” (mesmo que suas ramificações tenham continuado até a eleição de junho de 1976), foi marcado por uma rejeição geral das hipóteses criativas do movimento de 1968-69. Isso era acompanhado pelo renascimento de modelos ultrabolcheviques de organização no movimento ou – no caso de grupos como o MLS (Movimento Socialista dos Trabalhadores, baseado no movimento estudantil de Milão), Manifesto, Avanguardia Operaia e PDUP – de modelos togliattianos, no máximo embelezados com maoísmo. Em outras palavras, havia um certo retorno da época histórica e organizativa do Partido Comunista Italiano e de seu movimento, de Gramsci até a resistência.
Esse retorno marginalizou drasticamente a área de autonomia clássica do “operaismo”, herdada do movimento de operários e estudantes de 1968-69, assim como dos anarquistas, situacionistas e grupos marxistas-leninistas mais intransigentes.
O núcleo central da tendência da “autonomia operária”, representado pelo Potere Operaio e pelo Collettivo Politico Metropolitano, tendo confrontado os limites políticos e institucionais de uma estratégia baseada nas lutas salarias nas fábricas e tendo feito uma escolha dramática em favor da luta pela militarização do movimento. De maneira semelhante, isso envolvia palavras de ordem como “superar a espontaneidade do movimento de massas autônomo” e “construir o partido armado”. Envolvia investir tudo nos níveis da militância organizada, quadros profissionais, etc. Essa estava destinada a ser uma batalha perdida. Mas o problema principal agora é compreender como e porque as margens do “movimento” foram tão drasticamente limitadas, privadas de espaço político, enquanto apenas hipóteses de organização partidária sobreviveram nesse período.
Os problemas políticos do movimento e as concepções “partidistas” em desenvolvimento
Em geral, podemos dizer que os modelos históricos foram tomados de maneira acrítica e assumidos como uma validade normativa e importância a priori. Depois da onda de novas hipóteses políticas que foi bastante além da tradição histórica comunista, em 1968-69, vimos então uma recuperação e retomada total dos modelos e perspectivas da Terceira Internacional. O problema central era o terrorismo de Estado; o problema do poder, visto como a destruição da maquinaria do Estado, acentuava mais ainda os traços leninistas clássicos da organização. Isso é especialmente verdade da luta para derrubar o governo de direita Andreotti-Malagodi até 1972, o que levou ao grau máximo de convergência entre a estratégia organizativa dos grupos de esquerda revolucionários e as forças institucionais antifascismo. Os grupos que estavam nesse processo foram absorvidos pelo “sistema partidário”, ao ponto de “cruzar o limite parlamentar/eleitoral”, levando à criação de organizações como a DP (Democrazia Proletaria), ou táticas de apoio eleitoral do PCI, como a do Lotta Continua. Mas isso já nos leva à segunda fase, pós-1973, que deveremos examinar adiante.
Uma espécie de sistema togliattiano imperfeito estava em operação nesse primeiro período: por um lado, uma forte presença nas ruas, antifascismo militante, campanhas e manifestações de massas promovidas pelas organizações; por outro lado, pressão parlamentar, mas acima de tudo através das instituições e da imprensa, pelo PCI e o PSI, para derrubar a chantagem terrorista do governo DC e seus aliados. Mesmo as iniciativas das Brigadas Vermelhas (BR) nesse período mantém uma ambivalência objetiva entre formas extremas de antifascismo militante (encarado com tolerância considerável por certos setores de ex-guerrilheiros, veteranos da resistência armada da resistência dos anos 1940) e a construção de um partido armado, surgido do interior das perspectivas “pós-operaista” e insurrecionalista da corrente da “autonomia operária” à qual já nos referimos.
Podemos, portanto, distinguir as características do tipo médio do militante formado nessa fase da luta: um quadro de partido, com habilidade organizativa considerável, ativismo e presença em todos os níveis necessários, que se desenvolveu certamente desde a sua situação de luta, mas que recebeu uma formação política geral da “escola do partido” e dos mitos da organização. Seria injusto dizer simplesmente que isso implica a formação de militantes alienados, expropriados de sua própria subjetividade. Os traços positivos desse período, o ritmo incessante de campanhas e mobilizações, às vezes cego, mas não menos efetivo a longo prazo, o novo e calculado uso da “ação direta” nas manifestações e confrontos de rua, a resposta imediata às provocações da direita – todas essas atividades estabeleceram e impuseram um terreno de prática política de massas, eu se tornou uma estrutura social, uma composição de classe, mesmo se os sinais da sua fragilidade se tornaram aparentes no segundo período.
A transição a esse segundo período da luta deve ser primeiro compreendida nos termos da relação transformada entre a esquerda revolucionária e a fábrica. Isso não se devia apenas ao aumento da ênfase no ativismo territorial e comunitário (basta ver “Tomar a cidade” e outras palavras de ordem e projetos dessa fase). Era, antes, o caso de que a restauração dos modelos da Terceira Internacional significava que os conceitos científicos marxistas da fábrica e da classe operária haviam sido abandonados. A relação entre a política revolucionária e a realidade da classe trabalhadora era mediada por um tema superado – o da reestruturação. Em outras palavras, um terreno defensivo, que não apenas aceitava como dada a fragmentação do “operário de massas” – a força motriz da classe na ofensiva operária anterior – mas tornava essa fragmentação o ponto de partida central da organização. Esse foi um período confuso. Os grupos de esquerda não tinham estratégia fabril, os seus militantes eram expulsos das usinas, ou demitidos (normalmente por recusar o trabalho), ou se demitindo por sua própria vontade, ou se abrigando nos sindicatos. Em algumas das grandes concentrações operárias do norte, apenas uma fração clandestina era deixada para manter uma frágil rede organizativa.
Não que o período de 1969-73 tenha sido um período de impasse no que diz respeito às demandas operárias – longe disso. Ele foi marcado por uma atividade intensa de barganhas coletivas – provavelmente a mais intensa desde a guerra. Poucos estavam atentos para a reconquista, da parte do “sistema partidário”, das fábricas, precisamente porque esse processo foi encoberto pela pressão das negociações sindicais. Em alguns setores, os custos de trabalho subiram em 25% anuais, para não falar da pressão sindical pelo inquadramento unico (unificação dos sistemas de graduação para operários e pessoal de colarinho branco) e sobre as condições e o ambiente de trabalho. Mas essa atividade de negociação contínua tendeu a ter um efeito de fragmentação politicamente: ele tendeu a dissolver a identidade política da classe, a reduzindo a seu menor denominador comum como simples força de trabalho. Seria bastante errado dizer que a presença dos problemas políticos operários “diminui” nesse período em todos os níveis. A realidade da situação era antes a de que as propriedades da classe que a unificam e definem como um sujeito político foram agora transferidas às organizações. A classe permanecia como um elemento subalterno, como “material” para o partido, em outras palavras como força de trabalho. O espectro da velha separação entre a luta “política” e a “econômica” retornou à cena. Isso significou um sério atraso para a autonomia da classe operária: uma derrota da ciência da classe operária, da teoria revolucionária.
Um novo ciclo político de lutas: a generalização do comportamento político do operário de massas
Mas a identidade do operário de massas como sujeito político já estava morta – vida longa ao operário de massas! Um ciclo político de lutas enraizado de maneira tão profunda e poderosa como aquele que levou da confrontação de massas na Piazza Statuto (Turim, 1961) à ofensiva generalizada do Outono Quente (1969) – através da qual o operário de massas da indústria de grande escala agiu como a força motriz central – dificilmente poderia se esperar que ele diminuísse sem nenhum vestígio! Ele estava destinado a colocar em movimento toda uma série de efeitos secundários e mecanismos irreversíveis, impondo a sua hegemonia específica à composição de toda a classe.
De fato, haviam muitos sinais disso. Além da rede de fábricas menores que começaram a estourar uma atrás da outra, o resto da força de trabalho em todos os níveis pegou a deixa e começou a organizar e lutar nas mesmas linhas que os operários nas grandes fábricas. A parte da afirmação de um modelo semelhantes de atividade política sindical, encontramos formas paralelas de comportamento e práticas de luta coletivas. A hegemonia dos operários em relação aos funcionários assalariados pode ser vista nos piquetes de massas dos funcionários de bancos, incluindo confrontações violentas com a polícia e seus restos (a polícia a essa altura já estava sendo usada regularmente contra os piquetes), ou nas “marchas internas” (forma de mobilização característica na FIAT) dos funcionários do governo nos ministérios. Para não falar de certos efeitos mais específicos, como o uso operário dos tribunais do trabalho. Isso começou a dar a alguns níveis da magistratura uma plataforma para romper o impasse de uma batalha de forma puramente jurídica a respeito das garantias e leis trabalhistas contra as práticas ilegais do judiciário – daí a emergência de uma nova prática operária na jurisprudência.
Além disso, a luta em torno da saúde e da segurança no trabalho forneceu uma plataforma para que os médicos rompessem com os interesses corporativistas da profissão médica: daí se deu o início de uma crítica de massas à profissão médica e ao bloco de poder médico-farmacêutico que foi uma das maiores conquistas da hegemonia da classe operária no nível institucional. A resistência de classe à reestruturação e à inovação tecnológica nas fábricas levou os engenheiros e os técnicos a também criticar a organização da maquinaria e das usinas de uma perspectiva operária. Finalmente, houve uma unificação do sistema de graduações para o pessoal e os operários, junto com a conquista das “150 horas” (licença de estudo paga para os operários) concedida no contrato dos operários de engenharia de 1972 e generalizado depois disso. Autônoma e distinta tanto dos esquemas profissionais de retreinamento para o trabalho e cursos de treinamento sindicais, essa vitória posterior impôs novamente uma presença operária nas escolas e universidades estatais.
A chegada dos operários de “150 horas” com licença estudantil nas fábricas significou uma mudança radical. Os efeitos do livre acesso às universidades se tornaram macroscópicos. Dois novos elementos colocaram as antigas formas elitistas e acadêmicas em crise: estudantes de origem proletária/estudantes que havia sido proletarizados e estudantes operários. Houve também um fator geracional – a juventude entrando nas universidades tinha atrás dela um movimento secundarista, ao mesmo tempo compacto e testado no ativismo de massas nas ruas. Aqueles que chegavam de escolas técnicas ou comerciais vinham de uma origem de lutas em torno da relação entre educação e emprego. As reuniões de massas (assembleias) permaneceram as bases da formação política, mas a estrutura política dos militantes veio do servizio d’ordine (a organização de camareiros, as “tropas de choque” nas manifestações) e das organizações políticas comunitárias.
O novo papel definido da universidade e a ascensão do movimento de mulheres
Essa nova geração de ingressantes na universidade não encontrou nada novo ou superior em termos de cultura ou meios de expressão política em relação ao que já havia sido conquistado no ensino secundário ou pela atividade de grupos políticos. Em comparação, a universidade se mostrava como uma estrutura esquálida, burocrática e sem vida que oferecia muito pouco. A velha elite acadêmica, apesar da revolta estudantil de 1968, havia tido sucesso em cooptar a nova geração de jovens professores oportunistas. A arrogância pitoresca dos acadêmicos mais velhos estava sendo substituída por uma nova geração de indivíduos vivos e gastos. Os intelectuais da “nova esquerda” da safra de 1968 e os formados nos assim chamados grupos de minorias dos anos sessenta, se não abertamente vendidos, estavam ou a serviço da esquerda sindicalista ou estavam exercendo um papel duplo de militância organizativa combinada com academicismo “científico”. Qualquer possibilidade de uma nova cultura, uma reavaliação ou o relançamento de uma teoria revolucionária e a criação de novas armas teóricas que a universidade poderia oferecer, eram abertamente desencorajadas tanto pelos grupos quanto pelo jornalismo e publicações de esquerda. Daí que a universidade tenha sido tomada como o que ela era: um filtro burocrático de mobilidade social e nada mais. Os conteúdos da cultura acadêmica não eram desafiados: ao invés disso, havia uma completa deserção das aulas e seminários. A luta contra a seleção de admissão, como foi em 1968, não fazia mais sentido, uma vez que o próprio Estado havia imposto uma massificação e o livre acesso. A seleção agora acontecia em outros níveis – no nível da renda e das necessidades, não mais pelo voto de funcionários acadêmicos, mas pela inadequação estrutural dos serviços. O impacto da crise e o aumento no custo de vida tiveram um papel decisivo aqui.
Essa história nos leva para o fim de 1973 e a crise do petróleo, que tomamos como a data convencional para a abertura da segunda fase. Mas antes que continuemos, devemos nos voltar para o acontecimento decisivo que começou a transformar as condições do movimento de 1970-71, ainda em uma fase anterior: o nascimento do movimento feminista. Isso colocava imediatamente uma questão de hegemonia por todo o tecido social que era análoga, em sua dimensão e suas exigências, à hegemonia do operário de massas. Os interesses específicos e autônomos das mulheres, organizados por mulheres, não apenas desafiavam diretamente as relações familiares de produção. Elas, ao assumir uma forma política autônoma como um movimento feminista independente, também envolviam uma separação radical das mediações do “sistema partidário”, da representação sindical, mas também, acima de tudo, dos próprios grupos revolucionários de esquerda. Com a autodescoberta das mulheres e suas exigências para controlar seus corpos, suas próprias necessidades e desejos, a sua subjetividade, vemos o início de uma nova crítica da militância alienada – um dos temas centrais do movimento em sua segunda fase – mas também, e mais fundamentalmente, o ponto de partida de uma temática geral das necessidades no interior do movimento.
Tudo isso permaneceu uma tendência latente, no entanto, até o início da fase aguda da crise em 1974-75. No nível institucional, isso coincidiu com a derrota de uma “estratégia de tensão”. Exatamente no ponto em que a violência da crise contra a composição de classe atingia seu auge, a esquerda italiana – incluindo uma grande parte dos grupos extraparlamentares – estava celebrando essa vitória no nível institucional, considerando a sua missão praticamente realizada!
O erro de confundir a aparência e a substância do poder de Estado
Daí em diante vemos na forma das greves a precipitação de todas as contradições, acima de todas a distância entre a “política” e a realidade de classe, que marcava a situação “togliattiana imperfeita” descrita acima. A atenção da esquerda estava focada na forma do Estado, mas não na forma do Estado como medida e nivelada contra a autonomia da classe operária. Pelo contrário, a forma do Estado era vista em si mesma, em sua própria autonomia, exclusivamente no nível formal-político. A crise da estratégia direitista de tensão foi vista pela esquerda, de maneira equivocada, como a crise da forma do Estado. O abandono forçado do governo DC e seu uso velado de agentes e provocações fascistas foi confundido com a crise do regime. A virulência temporária das batalhas internas entre os DC e os “corpos destacados” do Estado (serviços secretos, segurança, etc.) foi confundida com uma crise do comando do Estado. Isso era confundir a aparência e a substância do poder de Estado. Enquanto isso, a verdadeira reconstrução do “sistema partidário” acontecia desde baixo; a forma do Estado já havia penetrado o terreno da fábrica e, já nesse momento, precisava da ideologia da crise para se assumir abertamente, como uma máquina diretamente polarizada contra os interesses da classe operária.
Consequentemente, houve uma crise temporária no nível governamental, mas combinada com uma “estabilização” gradual nas fábricas. A aplicação de medidas duras em postos altos, revelação de escândalos, intimidação em estilo máfia nos altos níveis exibida em público, corrupção da elite e da burocracia cruelmente exposta pela primeira vez – mas tudo de tal modo que se pudesse demonstrar provocativamente o privilégio de impunidade do “sistema partidário”. Ministro, promotores gerais, banqueiros, chefes de polícia cujas práticas clandestinas e ilegais foram amplamente provadas e discutidas, nunca sofreram nenhuma penalidade em termos de perda de liberdade ou renda pessoal. Assim, os escândalos do regime apenas serviram de fato como um elemento de intimidação e, com isso, de reforço da forma do Estado baseada no sistema de partidos.
Enquanto isso, “medidas duras” estavam sendo adotadas na fábrica! De 1974 em diante, o andamento de fechamentos de fábrica, dispensas e demissões se acelerou, facilitado pelo recurso sistemático aos cassa integrazione (fundo estatal/empresarial para compensar por períodos de demissão em indústrias e setores atingidos pela crise). O sistema de garantias legais nos contratos de trabalho estabelecido graças à ofensiva dos trabalhadores de 1969 não foi destruído e permaneceu intacto. Em outras palavras, se permitiu que ele sobrevivesse como uma armação jurídico-contratual. Mas a realidade do “garantismo” – que não depende de estatutos escritos e contratos de trabalho, mas da homogeneidade e consistência da organização de classe e da rede política da autonomia de classe construída nas fábricas nos anos anteriores – isso sim foi atacada com todos os meios disponíveis.
No que diz respeito à subjetividade de classe, que é nosso foco principal nesse artigo, um período de silêncio se coloca agora (além da bem conhecida piora das condições de trabalho) – um silêncio em que ainda nos encontramos hoje. Isso aconteceu, na ausência de estruturas políticas alternativas, com o declínio de instituições sindicais democráticas. Nas reuniões de massas nas fábricas, que se tornaram cada vez mais incomuns, os trabalhadores não falavam mais. Eles sofrem em silêncio o martelar contínuo da linha sindical oficial (“as coisas podem piorar”, “temos que aceitar a realidade da situação, “devemos apertar nossos cintos, aceitar alguns sacrifícios”, etc.). Eles se fecham em uma atitude de não-expressão das suas próprias necessidades e ficam olhando enquanto militantes de vanguarda são intimidados, removidos ou expulsos da fábrica com a cumplicidade aberta – de fato, com uma conivência ativa – de quadros sindicais e partidários. Enquanto o purgo dos militantes havia anteriormente sido um processo silencioso e rasteiro, com a transição para a segunda fase ele se torna aberto e demonstrativo: a confrontação política com os operários se torna um ataque frontal, determinado pelo esforço do “sistema partidário” de normalizar o comportamento dos operários e suas formas de luta. Visto nesse contexto, os avanços feitos na esfera dos “direitos civis” nessa nova fase devem ser vistos como uma isca – ainda que não devamos subestimar os seus efeitos na legitimação do movimento das mulheres (e, assim, permitindo que ele avançasse em uma frente política mais amplas) e na precipitação da crise das instituições militares. Apesar desses aspectos positivos, no entanto, não há dúvida de que o elemento macroscópico do período de 1974-76 permanece a incapacidade das lutas operárias em romper o equilíbrio do “sistema partidário” e desestabilizar suas relações internas.
Nesse embotamento temporário do impacto político da luta da classe operária, um papel considerável foi assumido pela estrutura político-administrativa descentralizada dos governos regionais e das autoridades locais. Eles interviram de maneira crescente como mediadores e árbitros das confrontações de fábrica.
Uma composição de classe em desenvolvimento: o papel da pequena fábrica e do operário disseminado
As firmas e fábricas menores em uma importância especial, pela a subjetividade de classe e o tipo de luta que geram. Nesse nível de golpes e contragolpes fragmentados, fechamentos e ocupações, é precisamente essa guerra de posição que faz surgir os processos de recomposição da classe operária. Ele ainda é difícil de delimitar, mas provavelmente a pequena fábrica forneceu o melhor terreno, o “buraco de entrada” pelo qual a toupeira começou a cavar mais uma vez. Obviamente, as pequenas fábricas não são homogêneas entre si, e realmente exibem grandes diferenças e contrastes. Por exemplo: diferenças entre baixos níveis tecnológicos, níveis antiquados de organização e grandes tendências inovadoras; entre situações de total paralisia do mercado e situações que ofereciam possibilidade de um novo mercado; firmas que são totalmente dependentes do estrangulamento do crédito e firmas como as cooperativas que estão livres da usura dos banqueiros; de firmas sindicalizadas a outras (em número muito maior) com nenhuma organização sindical; de firmas com uma força de trabalho que é marginal e mal paga àquelas em que ela tem altos salários e é qualificada; e, finalmente, fábricas de tamanhos variados em que todos esses elementos são combinados debaixo de um mesmo teto. Precisamente, esse nível de heterogeneidade significa que o operário das pequenas e médias fábricas não expressa um ponto de referência majoritário para a classe, cujas demandas e formas de luta podem ser assumidas no nível geral dos objetivos políticos; além disso, não podemos esperar ver o tipo de relação (como nas fábricas de grande escala) das vanguardas de massas, capazes de trazer atrás delas a totalidade do movimento.
Em outras palavras, nesse caso há a ausência dos mecanismos políticos que marcaram o ciclo de lutas do operário de massas. Mas isso não quer dizer que um potencial político geral não exista: aqui encontramos, por outro lado, um conjunto de mecanismos de recomposição que começam, precisamente, na base da heterogeneidade.
Comecemos com a idade: exatamente porque as pequenas fábricas tendem a usar força de trabalho marginal, a presença de menores e pessoas muito jovens, se não típica, é no entanto muito frequente, e é da pequenas fábricas que talvez a ala mais sólida do movimento da juventude proletária tenha sido recrutada. Ao mesmo tempo, uma vez que as pequenas fábricas empregam um número considerável de operárias mulheres, elas também forneceram uma base de recrutamento para uma ala considerável do movimento de mulheres, com uma atenção particular ao problema das necessidades materiais. Além disso, há a questão da força de trabalho envolvida em trabalho precário (lavoro precário), trabalho doméstico, trabalho ilegal (lavoro nero), etc. A crise destruiu as partições que dividiam as várias “formações industriais” e criou o fenômeno do “operário disseminado” (operaio disseminato) (que também pode ser encontrar em outros momentos específicos da história do proletariado italiano). Em outras palavras, a dispersão consciente da força de trabalho em uma dimensão territorial, em uma condição intermediária entre a subsunção forma e real ao capital. Esse é um plano preciso, colocado em marcha contra a agregação política da classe. Mas, deixando de lado esses aspectos estruturais, as grandes mudanças ainda serão vistas na subjetividade dos operários nas pequenas fábricas, na medida em que é difícil para eles aplicar modelos e formas organizativos de luta que realmente se aplicam apenas à indústria de grande escala. Aqui, vemos a crise no estilo sindicalista de operar que caracterizou as lutas dos trabalhadores nas grandes fábricas. A transição em que a fora de trabalho se torna classe operária (um processo que é garantido nas grandes fábricas pelo próprio fato da massificação) é uma transição que o operários da pequena fábrica deve conquista através de processos políticos que não estão de modo algum “dados”. A prática da violência deve compensar a falta de números e o baixo nível de massificação. Se as raízes da ação direta dos grupos operários armados deve ser encontradas, historicamente, nas antigas “Stalingrados” da classe operária, em termos políticos elas são baseadas nos padrões da pequena fábrica.
Em suma: a pequena fábrica teve um papel crucial. Ela forneceu o terreno material da recomposição da juventude proletária, para o movimento de mulheres e para a luta com o sobretrabalho e o trabalho ilegal – e ela forneceu um canal de mediação entre o comportamento do operário disseminado e o comportamento dos operários baseados nas grandes concentrações industriais.
No entanto, essas posições a respeito da pequena fábrica não devem ser tomadas em um sentido “institucional”. Em outras palavras, a nova composição de classe que emerge da segunda fase não tem nenhuma instituição para simbolizá-la, nem é representada por uma figura social majoritária. Isso se torna ainda mais evidente se examinamos outro grande setor de recrutamento – as indústrias de serviços. Aqui, vemos padrões familiares se repetindo. Em todas as sociedades capitalistas nos últimos 30 anos, o emprego estagnou de maneira uniforme no setor industrial e aumentou no de serviços. No entanto, o que não é uniforme é o nível de salários nos respectivos setores de serviços, e as imensas diferenças nos níveis de organização e eficiência. Aqui, no entanto, o problema é um problema de uma conjuntura política específica. A saber: a demarcação obscura entre a zona dos receptores de renda e a área dos serviços, o lançamento do programa de reforma dos sindicatos depois do Outono Quente com a intenção de desviar a pressão operária sobre o salário de fábrica para o salário indireto, a descentralização das funções da administração estatal – tudo isso contribui para fazer do setor de serviços um ponto de foco para um conjunto específico de tensões políticas. Isso se torna explosivo quando a ideia de o direito a um salário se torna generalizada, junto com o crescimento da realidade política das “novas necessidades”.
A mudança na posição da autoridade local e os operários para-estatais
O fato dominante nessa situação é a pressão política crescente no setor de serviços, nas firmas e agências nesse setor e nas instituições políticas e administrativas. Isso se consolidou por toda uma série de pressões subjetivas e estruturais, todas exigindo uma análise microscópica. O fato dessa pressão é o único elemento de homogeneidade na situação, porque uma vez que encaramos os níveis de organização ou os níveis de composição orgânica do capital, encontramos diferenças radicais. Por um lado, há os exemplos de empresas como a SIP e a ENEL (petroquímicas e eletricidade). Aqui, nos encontramos em uma zona de inovação tecnológica em larga escala, envolvendo gastos enormes sustentados por bancos e instituições financeiras (a SIP é de longe a mais endividada de todas as preocupações italianas), acompanhadas pelo fenômeno de uma reestruturação violenta. Também nos encontramos em um dos corações da classe operária (Sit-Siemens, Face Standard, Ansaldo Meccanica, Breda, ex-Pellizzari) e ao mesmo tempo em uma área em que a subcontratação criou uma grande reserva de trabalho temporário (forza-lavoro precário) (por exemplo, a força de trabalho nômade da SIP). As lutas e formas de organização operárias nessas áreas seguiram os ciclos de luta de classes mais amplos, mas o fato de que essas empresas estão no centro de decisões fundamentais a respeito do chamado “modelo de desenvolvimento” (i.e. a questão da política energética) quer dizer que as exigências operárias tendem a sair dos canais tradicionais de negociação coletiva e chegar ao debate político em geral.
A situação é semelhante no que diz respeito às instituições de crédito. O fato de que estamos lidando aqui com operários que são normalmente encarados como um setor privilegiado da força de trabalho por seus salários relativamente altos não evitou que sua luta se espalhasse ao ponto em que ela encontrou pontos de contato precisos com a forma política da autonomia do operário de massas. Nessas zonas, o entrelaçamento com a composição de classe geral também foi facilitado pelos grandes números de operários das instituições de crédito e do setor de serviços em geral que ingressaram nas universidades. O fato de que eles são empregados por setores de capital que produz juros permitiu aos trabalhadores bancários compreender o modo pelo qual o capital está administrando a crise, a função do dinheiro na crise. No entanto, aqui ainda nos encontramos em um quadro geral de controle sindical da força de trabalho.
A situação se altera radicalmente quando nos voltamos para os operários hospitalares, operários das autoridades locais e operários de serviço social. Aqui o controle da força de trabalho é exercido diretamente pelo “sistema partidário”. Aqui, o “sistema partidário” não pode delegar as escolhas políticas básicas aos “interesses econômicos”. Ele tem que tomar iniciativas diretamente no nível da organização das hierarquias e da organização do trabalho, no nível dos cortes nos empregos e nos custos do trabalho, mas acima de tudo, ao lidar com a exigência crescente de renda e serviços – i.e. ao lidar com a nova composição de classe o sistema de “necessidades” que surge. Esse é o primeiro teste que o Partido Comunista tem que enfrentar em seu novo papel como partido governante nas autoridades locais. Certas instituições – especialmente os hospitais – estão quebrando pela primeira vez, expondo condições de trabalho e salários que desapareceram da indústria anos atrás, assim como hierarquias estruturais que são inconcebíveis nessa “era do igualitarismo”. Para os operários hospitalares em especial, o líder da CGIL, Lama, guardou palavras ainda mais pesadas do que as que ele usou para os estudantes. O “sistema partidário” mobilizou o exército para acabar com a sua luta. A sequência lógica do clientelismo – o setor terciário –, a subversão foi invocada para fornecer uma base em que o bloco institucional pode se opor aos novos tipos de lutas travados pelos operários nos serviços sociais.
Operários do transporte, pequenas firmas e aspectos da descentralização
A situação é semelhante no caso dos operários dos transportes, o terceiro grande setor que alimenta a nova composição de classe. Mais uma vez o “sistema partidário” e os sindicatos funcionam como um controle sobre a força de trabalho. As lutas dos operários das ferrovias foram tratadas da mesma maneira brutal que as dos operários hospitalares, mas o fato de que o sindicato em questão tem uma longa (e alguns diria gloriosa) tradição histórica deu um impulso maior às greves quando o esse sindicato foi rejeitado ao tentar controlar a força de trabalho e impor políticas de austeridade. Por bem ou por mal, nos hospitais a luta autônoma também disparou um processo de sindicalização. Nas ferrovias, por outro lado, houve uma rejeição consciente e de massas da adesão ao sindicato da CGIL. Mas aqui, estamos lidando com coisas que já são bem conhecidas…
Menos conhecidas, mas infinitamente mais explosiva, é a situação no transporte rodoviário. Aqui nos deparamos com uma massa de operários assalariados e operadores independentes que equivale a vinte Mirafioris aglutinadas em uma só. O peso “objetivo” dessa força de trabalho é assustador, e esse é talvez o único setor da classe hoje cujo movimentos poderia paralisar todo o ciclo capitalista. A greve dos motoristas de caminhões-tanque no noroeste deu uma prova disso: o Partido Comunista, por meio da estrutura das cooperativas, controla uma fatia considerável desse setor. A greve desses motoristas deu uma indicação dos níveis possíveis de violência: 7-8 mil pneus cortados, de acordo com as fontes sindicais, em pouquíssimos dias.
Aqui o “sistema partidário” (que, aliás, se apressou para concluir negociações contratuais apesar do desejo óbvio da FIAT e das companhias de petróleo em provocar um impasse) fez um uso generalizado do fantasma do Chile, e mais uma vez repetiu a operação de marginalização política das exigências dos motoristas, etc., da mesma maneira que eles haviam feito com os operários ferroviários, os operários hospitalares, o serviço social e os operários das autoridades locais.
Nosso relato deixou de fora até aqui o grande número de operários em cada um dos setores citados que estão empregados por contratados ou subcontratados. Seus números aumentam consideravelmente o número da força de trabalho que é controlada seja direta, seja indiretamente pelo “sistema partidário” (ou, mais precisamente, pelos Democratas Cristãos e pelo Partido Comunista). Essa rede de trabalho contratado nos leva exatamente para o coração do lavoro nero – em outras palavras, aquela zona muito grande de trabalho assalariado em que o sistema de garantias sindicais ou é frágil ou inexistente. Mas essa rede é característica apenas do Estado, das autoridades locais e dos setores de serviço? Longe disso. É a própria estrutura da empresa que agora está sendo dissolvida, como um meio de produção de mercadorias: a empresa se mantém apenas como o contador central, como uma mera administração de trabalho descentralizado; na verdade, a empresa se dissolve como um sujeito ou protagonista do conflito, como uma instituição da luta de classes. A empresa é o ponto de sustentação do processo de terceirização. Como podemos falar da rigidez do mercado de trabalho fora dessa ruptura institucional? A cadeia infinita de descentralização da produção rompe a rigidez da idade e do sexo, da localização geográfica, da bagagem social, etc., e tudo isso é um fator de peso não fusão da nova composição de classe.
A cadeia de descentralização infinita é um dos elementos mais “progressistas” do capitalismo hoje, ela é uma arma muito mais poderosa de massificação do que a linha de montagem. A fábrica, como uma instituição que está cada vez mais “garantida” e “protegida”, está se tornando social e politicamente isolada. Ela não permitia o ingresso de pessoas jovens, mulheres, estudantes. Ela impunha suas hierarquias e sua compartimentação a toda a sociedade. Ela assumia um papel normativo, como uma forma social completa e perfeita. Se tornou necessário cercar e envolver a fábrica, e essa cadeia de descentralização infinita nos dá os fundamentos materiais para fazê-lo. O processo de descentralização criou um grande número de aberturas por meio das quais as mulheres, os jovens, os estudantes, os operários demitidos e operários redundantes entraram, assumindo o aspecto de operários assalariados. E enquanto isso milhares de operários assalariados estão saindo das fábricas e entrando nas universidades, assumindo a posição de estudantes. Esses são ambos movimentos no campo da demografia política, porque a posição do operário assalariado e a posição do estudantes tem uma legitimação precisa no sistema de conflitos institucionais em nosso país. Todo o mecanismo da reprodução de classes tinha a instituição da fábrica como sua sustentação (com o desenvolvimento de um sistema de garantias sindicais, uma “aristocracia operária” deveria ser reproduzida na fábrica) e a universidade como instituição de promoção social (onde uma classe média antioperária deveria ser criada) – mas esse mecanismo ruiu.
A descentralização do sistema de lutas. A política da “vida pessoal”
Até aqui, mostramos que o sistema de descentralização permitiu que uma força de trabalho “mista” fosse absorvida no interior da relação de salarial de trabalho, e que os processos de terceirização da empresa, por outro lado, fizeram com que milhares de operários assalariados se tornassem estudantes. Tendo mostrado que esses impulsos deram uma nova legitimação política a todos aqueles que estavam envolvidos, não precisamos listar as mil e uma posições que os estudantes assumiram ou podem assumir nas oportunidades de trabalho assalariado que o sistema de descentralização oferece. Esses milhares de estudantes operários deram uma nova dimensão política à condição do trabalho assalariado em que eles se encontraram, e mostrou que era possível criar um fortalecimento mútuo de lutas isoladas, mesmo em situações em que o sindicalismo é fraco e que existem poucas situações de luta. A universidade tem sido usada como um ponto focal. Mesmo essa “antecâmara esquálida e burocrática” se mostrou capaz de se tornar alguma coisa diferente – um ponto de encontro, um ponto de agregação para o sistema de lutas que ele mesmo também é infinitamente descentralizado. Enquanto isso, depois de anos de espera, a velha toupeira da luta estudantil também começou a cavar mais uma vez, a respeito de questões como refeitórios, habitação, transporte, e, enfim, sobre o conteúdo dos cursos, as provas e direitos de votação. Os setores estudantis proletários (ou proletarizados) conseguiram se fundir com a totalidade do campo de lutas que a crise estava colocando em movimento.
Mas nossa análise desses fatores estruturais não seria efetiva se não conseguíssemos combiná-la com uma análise da grande transformação acontecendo na esfera da “vida pessoal”. Isso obviamente começa com o colapso das relações sexuais trazido pelo feminismo. E então se amplifica para envolver os problemas do controle sobre o próprio corpo e suas estruturas de percepção, emoção e desejos. Esse não é apenas um problema da “cultura de juventude”. Ele tem antecedentes operários no ciclo de lutas de 1968-69. A defesa da própria integridade física contra o massacre em linhas rápidas e no maquinários, contra se envenenado pelo ambiente, etc., por um lado é uma maneira de resistir à depreciação do valor de troca da própria força de trabalho e a deterioração de seu valor de uso, mas ao mesmo tempo é uma maneira de se reapropriar do próprio corpo, de gozar livremente das necessidades corporais. Aqui também há uma homogeneidade, não uma separação, entre o comportamento dos jovens, das mulheres e dos operários.
Agora se coloca a questão das drogas. O controle do uso de drogas está sendo reapropriado pelas instituições do ciclo político. Logo depois que os jovens experimentaram as drogas leves, dando a eles uma prova em primeira mão do quanto a sociedade roubou deles em termos do seu potencial perceptivo, as multinacionais da heroína decidiram entrar e impor as drogas pesadas. Um espaço de confrontação política se abre, entre o valor de uso (autogerido, em certos limites) e de trocar das drogas, e isso envolve a organização e as instâncias da autodefesa armada. O mecanismo de produção de novas necessidades não é uma prerrogativa exclusiva dos “movimentos de libertação”: ele encontra suas raízes no “Queremos tudo!” dos operários de Mirafiori no verão de 1969. A “utopia italiana” tem uma forte marca da classe operária, que nenhum teórico do “movimento” de estilo americano – guetificado e autossuficiente – conseguirá apagar.
A crise das formas políticas. O sentido da área da autonomia.
Como vimos, a reconquista da “vida pessoal” também deu um golpe de morte às organizações da esquerda revolucionária. Mas as raízes de seu colapso organizativo não estão apenas nas questões das relações sexuais, das hierarquias alienantes, da negação da subjetividade, etc. Elas estão em erros de escolha política precisos e documentáveis, teorias da organização erradas. Por exemplo, o atual conceito de poder, que estava baseado no antigo ciclo político (luta/partido/transição/guerra civil/pode de Estado). Em outras palavras, uma projeção no futuro, mais do que uma experiência real nos espaços liberados do presente. Esse erro se transforma em uma paródia quando os grupos todos se amontoam na arena eleitoral. A forma institucional apodrecida da política, carcomida desde seu interpor e abandonada pelos elementos mais atentos, se tornou uma forma de opressão.
No entanto, seria errado teorizar, por um lado, uma sociedade irracional constituída de puros comportamentos opostos e, por outro, uma sociedade estruturada por esquemas lógicos. O que temos são circuitos ocultos envolvendo grupos específicos, que por sua vez evoluem em conjuntos específicos de resultados. Há, na verdade, uma prática consciente do irracional, como uma destruição dos elementos unificadores da linguagem, da comunicação e da mediação. Em suma, qualquer separação entre o clico “pós-político” (a zona do instinto, do irracional, do pessoal e do privado) e o político é inaceitável. Não é possível confinar a nova subjetividade no interior dos termos da contracultura de juventude, ou considera-la como uma prerrogativa exclusiva das mulheres. As tentativas atuais de criar uma oposição entre o movimento de libertação e o ciclo político são falsas – tão falsas quanto a teoria que define a nova composição de classe como sendo constituída de setores desempregados e marginalizados. A realidade é que a política como uma forma passou por uma crítica, na base de uma batalha entre linhas políticas, e isso, por sua vez, permitiu o surgimento de novas organizações que tem sido legitimadas politicamente por sua presença nos núcleos de classe apontados anteriormente.
A explosão de 1977, com a ocupação das instalações universitárias, foi um confronto violento entre a forma do Estado e a nova composição política da classe. Por um tempo, essa nova composição política se encontrou e se baseou na universidade, tomando-a como uma base material em que diferentes necessidades, diferentes segmentos de classe, grupos sociais e grupos políticos e grupos disseminados poderiam se agrupar. A universidade como uma instituição se tornou uma base de luta, capaz de representar todos os vários programas parciais da nova composição de classe.
A nova ascensão do movimento de mulheres e do movimento de juventude aprofunda a ruptura com as organizações que compõe o Democrazia Proletaria, mas as origens reais dessa ruptura devem ser encontradas nos desacordos políticos apresentados pelas novas forças da área da autonomia organizada (autonomia organizzata), em especial os grupos representando Roma, o Vale do Pó e o eixo Milão-Sesto-Bergamo. Então, se alguma coisa os legitimava como uma “minoria de liderança” na primeira fase da ocupação das faculdades, era a sua relação com a nova composição de classe, com o proletariado do setor de serviços de uma grande cidade terciária como Roma, com a rede de vanguardas fabris na zona industrial entre Milão e Bergamo e com as necessidades dos estudantes proletários e os operários geograficamente disseminados do Vale do Pó. O fato de que eles compreendiam e tinham subjetivamente antecipado os comportamentos de massas que não eram localizáveis nem nos esquemas da onda de contestações de 1968, nem nos do Outono Quente – esse fato permitiu às pessoas da “autonomia organizada” – ainda que por um breve período – apresentar um programa que estava de acordo com a composição de classe em desenvolvimento. A relação entre essas frações autonomistas e o movimento geral estar de par com a relação entre os grupos anarquistas e as massas na Sorbonne em maio de 68. A habilidade de adequar a composição de classe e o programa político significa a habilidade de praticar a arte da política (ou, mais normalmente, o simples bom senso) para reunir a vanguarda e a média, a organização e o movimento.
Mas, ao invés disso, com uma velocidade incrível, questões muito antigas começaram a surgir: a organização, com seu programa e seus planos, deveria superar o corpo do movimento? O programa deveria ser externo e se contrapor à composição de classe? Os ecos dos confrontos em Bologna mal haviam sumido quando todos tiraram suas máscaras de Lênin de trás das costas – em especial a tendência Autonomia Operária (Autonomia Operaia) no Norte.
Enquanto isso, na luta real, coisas importantes estavam acontecendo. As interpretações correntes delas (tanto as da tendência da DP quanto as da tendência da autonomia) estavam ou erradas ou só meio certas. Em especial no que diz respeito à dinâmica dos acontecimentos de Bologna.
O problema principal que gerou essa separação entre a composição de classe e o programa é a questão do “partido de combate” (partito combatente). Quando algumas frações da “autonomia organizada” decidiram forçar o passo nessa frente (com diferenças internas consideráveis entre aqueles em que se baseavam na necessidade de autodefesa e aquele que defendiam um avanço qualitativo na organização), não apenas a frente da DP se reconstruiu (Milão é um bom exemplo disso), mas também encontramos uma resistência difundida e crescente da parte dos elementos “libertários” que não aceitam uma reintrodução de práticas voluntaristas.
Não é acidente que tenha ficado na conta das frações da autonomia organizada liderar a primeira fase da luta. A sua hegemonia inicial sobre o movimento foi derivada de sua compreensão e antecipação das formas de comportamento político que eram características da nova composição de classe, da habilidade de ler partes do programa entre as próprias massas, em outras palavras, saber como se apresentar não como uma coisa “privada”, mas como uma expressão “social”, uma tendência de um movimento crescente, mais do que uma escolha completamente confinada no interior da lógica de auto-reprodução de um grupo político. O desenvolvimento da crítica das formas tradicionais de política (em especial da “forma partido”) afinou as sensibilidade de camaradas em uma habilidade quase neurótica de intuir quando escolhas e ações específicas funcionavam “para todos” e quando elas eram apenas privadas e pessoais. Forçar o ritmo na questão do “partido de combate” colocou em movimento todos esses mecanismos, e abriu mais contradições no interior do movimento do que no aparelho de Estado! Mas então é esse precisamente o ponto: com esse ciclo de lutas, a forma do Estado passou por uma evolução. Está perfeitamente claro que ela tem trilhado com muita força o caminho de unificação do “sistema partidário” e que a lei e a ordem foram os trilhos principais em que esse processo de unificação aconteceu. No entanto, no interior do “sistema partidário” houveram diferentes abordagens (ou, antes, uma divisão de papeis?) sobre como continuar com o fortalecimento da forma do Estado.
Experimentos práticos de uma nova forma de Estado
Os democratas cristãos assumiram a linha tosca de melhorar os privilégios existentes das forças da lei e da ordem (leis policiais de prisão, etc.), assim como introduziram novas regras e regulações. O efeito disso é entregar toda a operação de dissuasão ao aparato repressivo, com a intenção de que, tendo lidado com os “autonomistas” eles então poderiam se mobilizar contra o movimento amplo de oposição. Certamente, o DC fez isso depois de uma devida consulta aos outros partidos (i.e. respeitando as regras de seu projeto conjunto e aceitando os atrasos inevitáveis e as discussões que surgem neles), mas ainda assim o DC ainda se apoia no Estado como um aparelho: uma máquina separada, um “corpo especial”, para ser usado como um meio de repressão em dadas situações emergenciais, e enquanto isso deixa a “repressão diária” para a forma capitalista de controle sobre a fábrica e sobre o trabalho disseminado.
O Partido Comunista em Bologna, por outro lado, desenvolveu e experimentou praticamente com uma forma de Estado mais madura, uma forma que está mais alinhada com uma socialdemocracia de massas em um período de transição. Uma forma-Estado em que são as próprias massas que agem como o juiz e o júri, julgando quem é desviante e quem não é. Agora, devem ser as próprias reuniões de massas nas fábricas que expulsam os extremistas, as reuniões de massas de inquilinos que decidem expulsar o jovem perturbador, e a assembleia universitária que expulsa o estudante “indesejável” com uma pistola e uma barra de ferro. É claro, as instâncias em que estou pensando são casos extremos – mas o fato de que essa forma-Estado está sendo experimentada nos “autonomistas” como cobaias não diminui o potencial de marginalização de uma forma-Estado desse tipo em uma conjuntura de desenvolvimento da austeridade, de “política do sacrifício” e de dinheiro sendo passado diretamente para as empresas capitalistas. Uma vez que você tem a atuação coletiva como juiz e júri, as formas institucionais da lei (perucas e togas, etc.) só tem uma função de ratificação: elas se livram do refém, o tumor que foi expulso de um corpo saudável se não fosse por ele. A forma-Estado aparece como um tipo de processo de imunização da sociedade civil. Esse é um grande passo adiante – é um momento de “socialização do Estado”, que seria inovador se não estivesse acontecendo em uma conjuntura de congelamento do equilíbrio do poder de classe, com uma restauração do controle capitalista em todos os níveis e com uma anistia geral para os criminosos do passado e do presente que pertencem ao aparelho do clientelismo, da corrupção e da repressão. No nível das instituições de poder não se pode duvidar de que um elemento a mais está contribuindo para a insistência da situação, mas ao mesmo tempo devemos compreender deu caráter “progressista”. Ele transcende dois aspectos da atual forma-Estado: seu aspecto como um “sistema partidário”, e seu aspecto como um aparelho burocrático/repressivo, ambos sendo hostis e separados da sociedade civil. É uma forma infinitamente mais avançada, uma forma que, entre outras coisas, não tem necessidade de romper o atual aparato institucional ou purifica-lo ao substituir seus quadros por quadros mais democráticos. Essa forma-Estado faz mais do que isso. Ela subverte a relação entre a sociedade civil de o aparelho. Ela se apropria da função qualitativa do judiciário e deixa o aparelho com uma alteração quantitativa em termos das penalidades a serem impostas. Daí em diante, é a sociedade civil, a coletividade, que ajeita a norma e formula a sentença, enquanto o aparelho fica com a função técnica da punição.
Tudo isso apresenta problemas enormes para a legitimação de ações políticas, na medida em que a organização é obrigada a se medir diariamente contra a nova composição de classe, e deve encontrar seu programa político exclusivamente no comportamento da classe, e não em algum conjunto de estatutos; e isso não deve levar à clandestinidade política, mas ao seu oposto. Aqueles que praticam a clandestinidade técnica geralmente nem mesmo enxergam essa nova forma-Estado. Eles continuam a se relacionar com os aparelho de Estado e a focar sua atenção neles, e então eles se descobrem separados do movimento de massas. Por outro lado, aqueles que escolhem a clandestinidade política – i.e. a recusa de buscar criar uma base para a crítica e a legitimação de suas ações – não apenas passam pela mesma segregação do movimento de massas como também são esmagados pelo aparelho, porque eles não tem as defesas e as armas que tem aqueles na clandestinidade técnica.
Agora, enquanto é verdade que o PCI propôs (e, em algumas instâncias, colocou em prática) essa forma de Estado nova e mais avançada, como um experimento, na realidade, ele oscilou entre esse tipo de “prevenção política” do comportamento subversivo e uma delegação completa da repressão ao aparelho de Estado. Em minha opinião, a primeira opção tinha muito mais peso, e nesse sentido penso ser cansativas e também incorretas as referências que estão sendo feitas nesse momento à “nova Praga” ou a “novo Chile”. Mas o que devemos esclarecer é a medida em que essa proposição de uma forma-Estado “social” encontrou e encontrará resistências e recusas em vários níveis da atual composição de classe.
Deixando de lado a resistência que ela encontrou até mesmo entre setores em particular do próprio judiciário (i.e. em uma fração do próprio aparelho), ela não foi aprovada no nível médio da composição de classe (enfatizo médio). Não apenas porque ela tem como objetivo transferir para a sociedade civil apenas algumas (não por acaso, as mais odiosas) prerrogativas do Estado, e não outras mais atraentes (como o controle dos recursos, por exemplo). Mas também porque ela se ilude ao imaginar que ela pode injetar nas pessoas um sentimento abstrato do Estado, enquanto, na verdade, o Estado que as pessoas compreendem é esse Estado – i.e. um Estado em dadas relações de poder e sistemas de valor que a classe operária começou a desfazer em 1969, e que o “sistema partidário”, com a crise, não apenas conseguiu colocar de pé mais uma vez, mas também assumiu como o seu próprio. A forma-Estado não é um princípio jurídico, nem uma norma abstrata, mas uma formação que é historicamente determinada.
Ruma a uma mobilização de toda a massa do trabalho disseminado
A teoria de que a universidade funcionou como um ponto de agregação para o movimento existe conjuntamente com uma teoria sobre o futuro do desempregado intelectual (ou, antes, do intelectual desempregado), que foi assumida, de maneira acrítica, como a figura mais representativa do movimento. A teoria é de que a exclusão de intelectual desempregado do mercado de trabalho o coloca junto dos outros setores marginalizados, para quem o intelectual desempregado, então, age como uma voz. Eu já apresentei meu completo desacordo como esse tipo de interpretação. A universidade foi assumida pela atual composição de classe como um ponto de agregação mais por causa das formas políticas da luta (i.e. por alguns níveis de violência e poder) do que pelo fato de que ela é uma fábrica de produção de intelectuais desempregados. Ela foi assumida porque ela coloca um fim nesse processo de marginalização das exigências, comportamentos subjetivos e organização. Mas uma vez mais devemos ir além da universidade, tanto como base para o movimento quanto como ponto de agregação para identificar os canais que podem levar à mobilização de toda a massa do trabalho disseminado – i.e. para fornecer um caminho direto para a fábrica que produz mais valor relativo. Por essa razão, passei me dei o trabalho de enfatizar a questão do trabalho precário, junto com o sistema de produção decentralizada, e que a zona social em que o sistema protegido de “garantias” sindicais dos salários e condições de trabalho entrou em crise. Para fazer essa transição é de importância vital que primeiro tenhamos que rejeitar a “retórica da pobreza” – protestos morais em favor dos pobres. Pelo contrário, devemos mais uma vez nos perguntar se é possível pensar nos termos de “objetivos de massas” do tipo que caracterizou o antiautoritarismo de 1968 (a exigência dos operários da FIAT de “grau 2 para todos”, que levou ao igualitarismo das exigências feitas no Outono Quente de 1969).
Uma proposta dessas não pode simplesmente ser descartada como um passo atrás na negociação coletiva, que prepararia o terreno para um novo contrato social entre o governo e os sindicatos. Seria absurdo rejeitá-la, pelo simples motivo de que novos objetivos desse tipo levariam com eles o peso representativo do infinito potencial de criatividade que surgiu nesses últimos anos. Mais do que isso, o problema maior é como vamos encontrar o ponto em que um projeto desse tipo pode ser aplicado – em suma, para escolher as “novas Mirafioris” entre todos os “setores estratégicos” do chamado setor terciário. Mais especificamente, entre todos aqueles que funcionam como elo de ligação entre a produção de mais-valor absoluto e a produção de mais-valor relativo – como, por exemplo, o ciclo de transportes. Além disso, até mesmo na simples extensão da rigidez do trabalho (mesmo em sua forma como um sistema de garantismo sindical) ao lavoro nero, trabalho subcontratado, etc., isso teria o efeito de forçar a luta de fábrica a dar um salto adiante. Em suma, estamos procurando os canais sociais em que poderíamos romper o cercamento que já está acontecendo e evitar que o movimento se dispersasse em mil momentos de luta descentralizados – um novo e longo purgatório de lutas endêmicas. Temos que encontrar alguma coisa que possa funcionar da mesma maneira que funcionaram as greves pelas pensões e as lutas em torno das áreas de trabalho funcionaram, em relação ao ciclo de lutas operárias de 1968-69.
Essa abordagem será taxada de “economicismo” e “acordismo coletivo” por todos e cada um. Ela será acusada de falta de imaginação, mobilizando práticas que estão mortas e enterradas. Mas vamos com calma. A forma-Estado que se apresenta hoje tem suas origens na ideologia da crise e no programa de austeridade que ela trouxe consigo. A ideologia ofereceu os fundamentos para estabelecer novas relações, mais estreitas, entre os partidos. É esse o fundamento para o “compromisso histórico”. É essa a justificativa dos poderes de marginalização dos partidos. Conseguir derrubar tudo isso não seria coisa pequena. Não significaria um retorno para a antiga forma conflitual de mediações do sistema partidário, mas a restauração do conflito entre as bases e a nova relação entre uma forma-Estado socializada e a produção de capital. E, mais ainda, uma vez que o imperialismo de Jimmy Carter – diferentemente dos contadores obtusos do FMI – compreendeu que na Itália o sistema de valores e comportamentos ao qual a combinação de medidas de austeridade, lei e ordem tem que ser aplicada é mais forte do que parece. E, portanto, é um bom investimento liberar grandes somas de “dinheiro de controle” (essa é a tendência atual de Carter) através de um grande sistema de bancos privados internacionais. Que comecemos a transformar esse domínio em dinheiro-enquanto-dinheiro – transformar essa medida de poder-sobre-o-trabalho-alheio em poder-sobre-nossas-próprias-necessidades, poder sobre nossos próprios espaços de organização e cultura, uma força motriz para o novo desenvolvimento de uma nova composição de classe. É tempo de que tomemos de volta do “sistema partidário” os seus poderes residuais sobre a reprodução das classes, para que possamos começar a determinar essa reprodução desde a base, de modo que possamos garantir os sistemas de valor e os comportamentos políticos que a nova composição de classe legitimou nas lutas desses últimos meses.
[1] Ver H. Brand, “The Myth of the Capital Shortage”, em Dissent, verão de 1976.
[2] Federal Reserve Bank of New York Monthly Review, outubro de 1976.
[3]Peter Drucker, The Unseen Revolution: How Pension Fund Socialism Came to America, Londres, 1976.
[4] Ver B. Secchi, Il Problema delle Abitazioni, dalla Casa al Territorio, Faculdade Politécnica de Arquitetura, Milão, 1976.
Tradução para o português brasileiro diretamente de edição na língua original (inglês), feita de forma voluntária pelo Coletivo Autonomista!. Texto retirado de Autonomia: post-political politics. Semiotext(e), 2007.
Você pode contribuir enviando e-mails indicando erros de tradução ou sugestões de melhoria para autonomistablog@gmail.com
. Este e outros textos de tradução do Coletivo Autonomista! estão disponíveis em: https://autonomistablog.wordpress.com/
Todo conhecimento deve ser livre. Por isso, não há restrições à cópia e distribuição desse material. Compartilhe!